A trajetória das privatizações no Brasil expõe um cenário preocupante. Longe de catalisar um desenvolvimento autônomo e em prol do povo brasileiro, a transferência massiva de ativos estratégicos e críticos para o setor privado tem aprofundado desigualdades, onerado os consumidores e comprometido nossa autonomia nacional. Dados recentes evidenciam que, no setor elétrico, a privatização da Eletrobras pode elevar a conta de luz em até 6,5 % ao ano — o que representa um custo adicional entre R$ 52 bilhões e R$ 104 bilhões em 30 anos. Complementarmente, estimativas do TCU apontam que o processo de descotização pode provocar aumentos tarifários de até 16,7 % na média do mercado regulado. Essa realidade contrasta com as expectativas de redução de custos — frágeis diante da lógica lucrativa imposta aos operadores privados.
No setor de água e saneamento, apesar de um incremento no acesso — com crescimento de cobertura que chegou a patamares estatisticamente relevantes em análise entre 1998 e 2019 —, as tarifas também cresceram sistematicamente nesses locais. Em Manaus, por exemplo, a concessão à iniciativa privada levou a aumentos que desencadearam a redução do consumo em regiões de baixa renda. No Rio de Janeiro, a privatização da CEDAE resultou em queda de 7 % no índice de tratamento entre 2020 e 2021, com aumento das reclamações — evidência de deterioração do serviço. Ainda que estudos mostrem ganhos de eficiência para acionistas — como melhor rentabilidade e liquidez corrente pós-privatização —, é notória a ausência de evidências convincentes de melhoria no desempenho técnico ou na qualidade do serviço ofertado. A captura de lucros, restrita ao privado, é a lógica contrária à universalização do acesso.
Do ponto de vista fiscal, as receitas geradas com privatizações não conseguiram conter a trajetória crescente da dívida pública. No ciclo FHC (1995–2002), os recursos de privatizações reduziram a dívida líquida em 8,4 % do PIB. Mas, ainda assim, ela disparou de US$ 78 bilhões para US$ 245 bilhões nesse período. Esse padrão se repetiu em outros ciclos. Portanto, a equação «vender = modernizar» se mostrou falaciosa. O que vemos é um modelo que acelera a desnacionalização, aumenta a precariedade do acesso aos serviços essenciais e desloca o risco e o controle para o Estado-consumidor. Privatizar não é inevitável. É escolha política. E, no caso brasileiro, essa escolha tem resultado em sucessivos prejuízos sociais.
Essa discussão não é de hoje e está longe de terminar. A formação do Estado moderno brasileiro, a partir da Revolução de 1930, está intrinsecamente vinculada à afirmação da soberania nacional. Tal soberania não se concretizava apenas na esfera diplomática ou militar, mas sobretudo na capacidade estatal de conduzir a industrialização, controlar setores estratégicos e proteger a integridade econômica da nação diante das pressões do capital internacional. O governo de Getúlio Vargas rompeu com o modelo agro-exportador da Primeira República, inaugurando uma política de substituição de importações — cuja premissa era superar o atraso estrutural brasileiro, produzindo internamente os bens até então importados e assegurando autonomia econômica. Sob essa lógica, surgiram as primeiras grandes estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional (1940) — fortalecida pela conjuntura da Segunda Guerra Mundial—, a Companhia Vale do Rio Doce (1942) — vocacionada para exploração mineral — e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (1945).
Em 1953, concretizou-se o marco simbólico da intervenção estatal: a criação da Petrobras, fruto da campanha «O Petróleo é Nosso» e emblemática do projeto nacional. Com a instituição do BNDE (1952), o Estado se consolidou como indutor principal do desenvolvimento, controlando energia, siderurgia, mineração, telecomunicações, transporte e petróleo. Esse modelo econômico, em que setores chave eram de controle público, sustentava a visão de soberania atrelada à gestão estatal — composta por planejamento, financiamento e tutela de ativos estratégicos. Tal concepção só começou a ser contestada nos anos 1980, com a crise da dívida, o fim do modelo desenvolvimentista e a entrada da agenda neoliberal. No processo de redemocratização pós-1985, foram impostas restrições severas à capacidade financeira do Estado brasileiro. Sujeito à pressões externas exercidas pelo FMI e Banco Mundial, o Brasil se viu na contingência de impulsionar reformas de ajuste estrutural e redução do protagonismo estatal.
Nesse contexto, o governo Sarney iniciou com cautela o processo de privatização: foram alienadas 18 estatais (rendas de US$ 533 milhões), repassadas 18 a governos estaduais, duas incorporadas por instituições financeiras e quatro extintas. Os ativos vendidos incluíam empresas nas áreas de celulose (Riocel, Aracruz), siderurgia e mineração (Sibra, CBC, Caraíbas Metais). Não havia ainda projeto estratégico. Tratava-se, sobretudo, de alívio fiscal em um contexto de inflação e déficit crescentes, amparado pelo discurso emergente de ineficiência estatal.
O Governo Collor (1990–1992) foi mais ousado em sua guinada neoliberal. Nele, ganhou consistência o Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído em 1990 via Lei nº 8.031. Foram incluídos 68 ativos, dos quais somente 18 foram efetivamente privatizados. A USIMINAS, uma estatal rentável, foi leiloada em outubro de 1991 ao grupo Gerdau — com apoio financeiro do BNDES e venda abaixo do valor patrimonial. Essa etapa revelou contradições profundas: a venda de ativos lucrativos era realizada para aliviar dívidas de curto prazo, frequentemente com empréstimos públicos, invertendo os princípios fundamentais da privatização. Com Itamar Franco (1992–1995), prosseguiu o processo de privatização, sobretudo no setor siderúrgico, com a venda da CSN para o grupo liderado por Benjamin Steinbruch, além de Açominas, Cosipa e Embraer. O respaldo a essa política advinha do discurso hegemônico de modernização e atração de investimentos.
Porém, é o Governo FHC que propiciou a fase mais intensa de privatizações no Brasil, cristalizando o modelo neoliberal e a agenda privatista. A Lei nº 9.491 criou o Conselho Nacional de Desestatização, afirmando a visão de um Estado mínimo. Entre 1995 e 2002, os dados indicam que foram arrecadados US$ 78,6 bi com 95% em recursos corrente, incluindo com financiamento do BNDES e setores inteiros privatizados, como telecomunicações (Telebrás), energia (Light, Gerasul) e mineração (Vale do Rio Doce). Ao final, entregou-se de patrimônios estratégicos sem garantias robustas de contrapartidas em investimentos ou manutenção de empregos, o que comprometeu a capacidade do Estado de planejamento, ao mesmo tempo em que a dívida pública continuou crescendo: de US$ 78 bi em 1996 para US$ 245 bi em 2002.
Esses dados evidenciam que, desde o início da década de 1990, o Brasil iniciou um amplo processo de privatização de empresas estatais federais, cujo ritmo se intensificou ao longo dos anos, ininterruptamente. O marco inicial desse processo foi, em 1991, a privatização da Usiminas Mecânica S.A. e das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS), ambas ocorridas em 24 de outubro. Ainda em 1991, foram privatizadas a Cia. Eletromecânica (CELMA), a Barreiros S.A. (BARSA), a Dist. e Consórcio Distribuidora S.A. (COSINOR) e a Cia. Siderúrgica do Nordeste (SIBRAPE), todas no mês de novembro.
No ano de 1992, o processo continuou com a venda de diversas empresas industriais e do setor químico, como a Serviço de Navegação da Bacia do Prata (SNEA), a Aços Finos Piratini S.A. (AFP), a Cia. Nacional de Produtos Químicos (CNPQ), a Cia. Petroquímica do Sul (COPESUL) e a Álcalis do Rio Grande do Norte (ALCALIS), todas no primeiro semestre. Também foram privatizadas, em julho, a Cia. Nacional de Álcalis (CNA) e a Cia. Siderúrgica de Tubarão (CISI). Ainda em 1992, destacaram-se as alienações da Fertilizantes Fosfatados S.A. (FOSFERTIL), da Goiás Fertilizantes S.A. (GOFERTIL), da Forges Acesita S.A. (FASA) e da Coestel Aços Especiais S.A. (COFAVI), ocorridas em agosto e outubro.
No ano seguinte, 1993, houve a privatização de importantes empresas do setor siderúrgico e de fertilizantes, como a Cia. Aços Especiais Itabira (CIL), a Fábrica de Estruturas Metálicas S.A. (FEM), a Cia. Siderúrgica Nacional (CSN), a Ultrafértil S.A., a Cia. Siderúrgica Paulista (COSIPA), a Cia. Aços Minas Gerais S.A. (COSIMA) e a Petroquímica União S.A. (PQU).
Nos anos subsequentes, o processo prosseguiu com a alienação da Mineração Caraíba Ltda. (CRIBA), da Indústria Aeronáutica Neiva S.A. (NEIVA), da Embraer Aviation International, da Embraer Aircraft Corporation e da própria Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., todas entre 1994 e 1995, marcando a saída do Estado do setor aeronáutico nacional. Em 1995, foi também privatizada a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (ESCELSA). Em 1996 e 1997, destacaram-se privatizações no setor energético e financeiro, incluindo a Light Serviços de Eletricidade S.A., a Cia. Vale do Rio Doce (CVRD), com 13 subsidiárias, e o Banco Meridional do Brasil S.A., com cinco subsidiárias. Em 1998, deu-se o maior desmonte do setor de telecomunicações, com a privatização do Sistema TELEBRÁS, envolvendo 12 holdings e 27 empresas de telefonia fixa e móvel, com exceção da Embratel.
Em 1999, foi alienada a Datamec S.A. – Sistemas de Processamento de Dados, e, no ano de 2000, ocorreu a privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (BANESPA). Em 2001 e 2002, o foco recaiu sobre bancos estaduais, como o Banco do Estado de Goiás (BEG), o Banco do Estado do Amazonas (BEA), o Banco do Estado do Maranhão (BEM) e o Banco do Estado do Ceará (BEC), todos adquiridos por grupos privados, especialmente o Bradesco. Já na década de 2000, em 2005 e 2006, o processo seguiu com a exclusão da Petrobras Argentina S.A. (PAR) e da Eg3 S.A., ambas incorporadas à Petrobrás Energia S.A., além da extinção da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), por decreto, em 30 de junho de 2006. Essa cronologia mostra que, em pouco mais de 15 anos, o Brasil privatizou empresas dos setores bancário, siderúrgico, químico, energético, de transportes, aeroespacial, de telecomunicações e de fertilizantes, numa das maiores transferências de capital estatal para o setor privado da história latino-americana.
Por sua vez, o Partido dos Trabalhadores, ao assumir a presidência da república com Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef, manteve a continuidade macroeconômica, embora tenha optado por um modelo híbrido: favorecer concessões ao invés de privatizações diretas. Isso significou, na prática a concessão de 2.600 km de rodovias federais, usinas (Santo Antônio, Jirau) e linhas de transmissão, bancos estaduais (Ceará, Maranhão), concessões de aeroportos (Guarulhos, Confins, Galeão, Brasília, Natal, Campinas), e o Campo de Libra, no pré-sal, por R$ 15 bi em 2013. Embora o modelo garantisse certa continuidade da posse estatal, em muitos casos os riscos, custos e estruturação financeira ficaram a cargo do Estado, enquanto os lucros privados ficaram assegurados.
Na sequência da destituição presidencial de 2016, o governo de Michel Temer lançou pacote ambicioso com 193 projetos de desestatização. Desses, 124 (64%) foram concluídos. O total de outorgas alcançou R$ 46,4 bi, com previsão de R$ 253,3 bi em investimentos ao longo de 30 anos. A maior parte recaiu sobre energia (94 projetos, sobretudo transmissão), junto a concessões de aeroportos e de rodovia. A Emenda Constitucional do Teto de Gastos (EC 95) reforçou a lógica de privatização como única estrada possível, haja vista a proibição de investimentos públicos expressivos por duas décadas.
Com Bolsonaro vemos o apogeu da financeirização. A gestão ministerial de Paulo Guedes intensificou a agenda neoliberal, arrecadando R$ 304,2 bi com privatizações e desinvestimentos entre 2019 e 2022. Entre os ativos vendidos temos a Eletrobras (R$ 33,7 bi), BR Distribuidora, Liquigás, Refinaria Landulpho Alves, participações na Vale, Petrobras, IRB, Fibria, leilão do pré-sal e da tecnologia 5G (R$ 46,8 bi). Nesse modelo, o mercado se tornou o agente principal, com plena capacidade de capturar lucros e sem compromissos claros de retorno social, muito menos com a ampliação de acesso ou fortalecimento da governança nacional.
Historicamente, a trajetória da privatização no Brasil evidencia um fenômeno contraditório de múltiplas facetas. Nele, a promessa de eficiência crescente muitas vezes não se confirmou: tarifas aumentaram, controle estatal se reduziu, e dependência tecnológica se intensificou. O Estado, paradoxalmente, financiou a compra de seus próprios ativos via BNDES e fundos de pensão, invertendo o princípio de que privatização significa transferência definitiva de ativos. A dívida pública continuou crescendo mesmo com a venda de patrimônio. Ao nível estratégico e geopolítico, houve uma redução da capacidade nacional de planejamento e controle sobre setores vitais, como energia, telecomunicações, mineração e infraestrutura.
Ao contrário do alegado, o que se produziu foi um processo de desmonte da infraestrutura estatal sem reposição efetiva de sua capacidade de planejamento, financiamento e regulação. A venda de ativos estratégicos, sem controle social, sem cláusulas robustas de reinvestimento e, muitas vezes, com subvalorização patrimonial, comprometeu totalmente a capacidade do país de conduzir políticas industriais e sociais de longo prazo. Mais do que um erro técnico, trata-se de uma opção política cujas consequências são agravadas até hoje e até quando não podemos precisar.

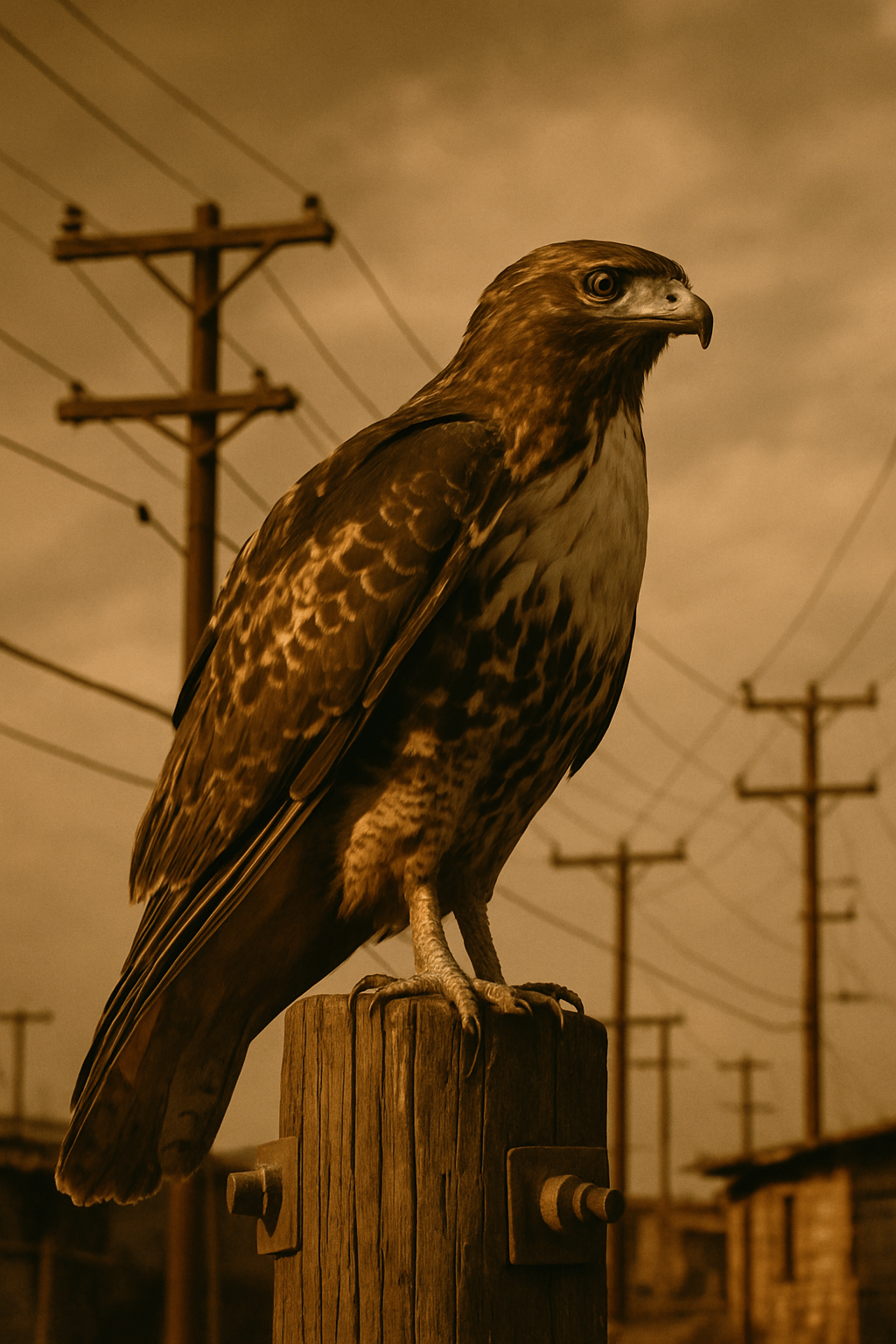
Deixe um comentário